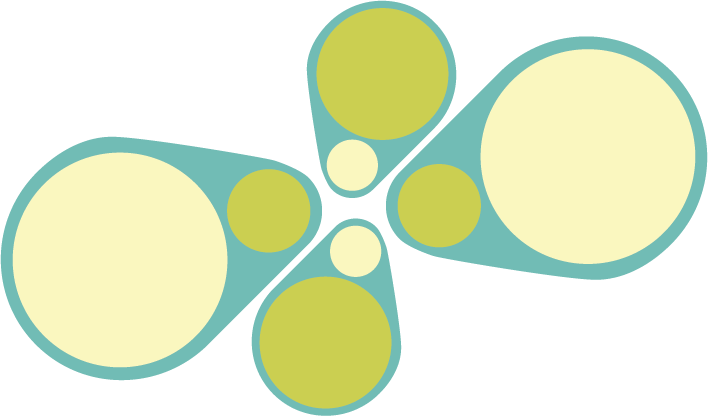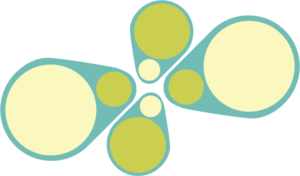Nasci em algum lugar na região central da cidade de São Paulo, no ano de 1989.
Não me recordo da primeira vez que vi o mar, que pisei na grama ou que vi um cachorro.
Por volta dos sete anos meu avô paterno, numa tarde em São Vicente, me levou para pescar: varas de bambu fino e peixes pequenos, nada que parecesse com o “Peixe alimento” tal qual eu conhecia. Um tempo depois o vi tirar da água, já pros lados de Santos, um peixe maior, o qual acabou acidentalmente “fugindo” de volta ao mar, o que lhe gerou muitos lamentos durante todo o dia: sentado em uma cadeira na cozinha, repetiu algumas vezes: “Eu tô imaginando aquele peixe dentro do congelador!”.
Por mais de uma vez, não saberia precisar, os colégios em que estudei, na região da Freguesia do Ó – bairro pra lá do Tietê, entre o norte e o oeste da metrópole – levaram os alunos para excursões em sítios e fazendas. Confesso que não recordo exatamente a sensação do momento, mas foi um choque imenso quando vi um rapaz espremendo as tetas de uma vaca e tirando de lá leite: descobri de onde vinha aquilo que tomava todas as manhãs, e fiquei impactado.
Aos quatorze, é verdade, passei a questionar a lógica carnívora, a exploração animal. Cheguei no Ensino Médio como o aluno que questionava o antropocentrismo, que gritava frases de impacto quando passava perto do açougue e que mentia para a mãe e o pai para ir a shows de bandas grunges covers em ambientes insalubres. Infelizmente parei de questionar algumas coisas.
Foi um choque muito grande quando, na virada dos dezenove para os vinte, vi uma árvore toda fininha e retorcidinha, de folhas bem pequeninas, mas com os caules repletos do que me parecia ser algum tipo de besouro. Dessa sensação me lembro bem: cheguei perto da árvore, com medo, obviamente, e então me apresentaram para o Pé de Jabuticaba. Fiquei chocado: como podia aquela fruta docinha e gostosa, que nas feiras de São Paulo era vendida por quilo, nascer nos caules da árvore?
O choque da jabuticaba ocorreu no meu primeiro ano morando no interior, em Marília, depois foram mais cinco. Apesar de ter morado sempre mais próximo do urbano do que do rural, mais perto dos grandes mercados do que das plantações, foi uma época de bastante aprendizado sobre esta enigmática figura genericamente chamada de “A natureza”.
É importante indicar que esta incursão pelo interiorzão distante de São Paulo encerrou-se com um período de dez meses trabalhando em um pequeniníssimo município: doze mil habitantes, extensa maioria da área era rural, plantações e mais plantações, apenas um semáforo na ‘cidade’ em si.
Voltei pra São Paulo. Mais três anos e pouco tendo como contato com a natureza pedalar pelas margens do Rio Pinheiros e temer as capivaras, ver pés de goiaba e amora carregados de frutos mas exitar ante o saborear: “Essa fruta deve ser 90% água, e a água que passa aqui por debaixo é um córrego que deságua no Tietê, isso não é uma fruta: é uma bomba de toxinas…”.
Então cheguei ao dia de hoje, no município de Mogi das Cruzes (vale lembrar que ‘Mogi’ vem do Tupi, é algo como “Rio das Cobras”), em que me lembrei de um pacote plástico com pedaços de peixe guardado no meu congelador. Lembrei dele ao me perguntar: “O que almoçarei?”. Abri o pacote, e os pedaços da carne dita ‘branca’ estavam duros pelo gelo, pensei: “Será que tem problema colocar na água para descongelar?”.
Uma vida em meio às brutalidades do capitalismo urbano, vendo mais embalagens do que cascas, mais frutas embaladas em plástico filme do que sendo absorvidas pela terra, vendo mais pedaços embalados à vácuo do que animais perambulando que seja pelo pasto, vendo mais asfalto do que grama, me levou a esta bizarra dúvida: se poderia colocar o que já foi um peixe, na água.