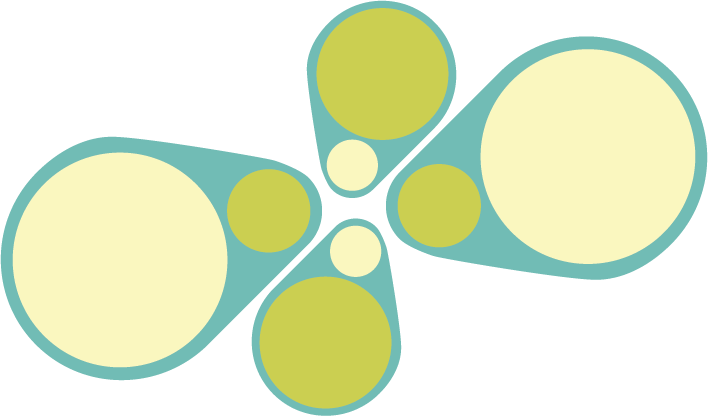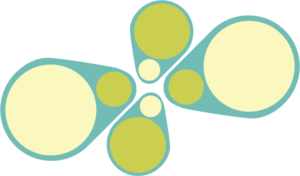São sobrenomes distintos, de duas pessoas distintas, não contemporâneas, porém atemporais, de universos artísticos diferentes – uma da literatura, outra da música – mas que têm o mesmo nome de batismo: Eleanor. Bonito nome.
A Eleanor da literatura é funcionária administrativa de um escritório de design, não sai de casa, a não ser pra trabalhar, passar na venda e comprar uma pizza e uma vodca Glenn’s só às sextas. Ela come sua pizza sozinha e bebe seu trago até dormir no sofá sozinha. Às quartas à noite, fala com sua tosca mãe pelo telefone (uma assombrosa surpresa se revela sobre essa progenitora no decorrer do livro). Sempre. Sem falhas. Sem deslizes. Sem desviar do seu caminho.
Já a Eleanor da canção recolhe arroz do chão após casamentos em que ela não esteve. Vive num sonho. Usa uma máscara que a protege todos os dias ao sair de casa. E morre sozinha, assim como sempre viveu. Morreu na igreja. Ninguém apareceu no seu velório, a não ser o Padre Mackenzie, mas esse não conta. No meu imaginário, chovia torrencialmente na hora do funeral. Clichê. Mas a solidão é um baita clichê, né, gente. Gail Honeyman – a autora do livro protagonizado pela Eleanor Oliphant – na minha modesta opinião, conseguiu escrever sobre solidão sem ser piegas nem deprê – pelo contrário:
bem humorada que só ela. Mas ali no fundinho, traz aquela reflexão dolorida sobre estar só e ser só. E um ânimo latente sobre a possibilidade infinita de mudanças diárias, inclusive do estado de solidão para apenas viver sozinha e não solitária.
Paul McCartney, em sua obra (com os Beatles) Eleanor Rigby – registrando oficialmente nessa música sua veia pra escrever na terceira pessoa – conseguiu sonoramente
ilustrar a solidão também sem ser brega, e com uma melancolia sinistra digna de um suspense psicológico dos anos 70. Questionando-se na canção, Paul nos fazia perguntar também: a que lugar pertencem todos os solitários?
Cafonice, humor, melancolia, medo. Quem nunca pensou, assustando-se com os próprios devaneios, que o fim da vida pode ser gélido, sombrio e só? Quem nunca engoliu seco ao visualizar uma velhice sem afago, sem toque, sem beijo, sem abraço e sem desejo? Mais um clichê da vida é a colheita obrigatória. Sabe aquela coisa de semear agora e receber depois?
Pra garantir, é bom sair abraçando e beijando, se declarando, fazendo cafuné nos amados, dando chêro no cangote e fazendo chamegos gratuitos. Acordar e botar a generosidade e a bondade pra trabalhar de dentro pra fora de você. Com o coração cheio de verdade e amor.
Agora. Já!
Mas e naqueles momentos em que nada supre o prazer de estar sozinho, consigo mesmo, na marcha ininterrupta e, sim, fundamental e deliciosa do autoconhecimento? Bem…
Podemos preencher o tempo vazio que às vezes sobra com um bom livro ou uma seleção de canções poderosas. Vale até colocar uma máscara protetora, com marra ou sorrisão estampado. Ou mesmo tomar uma dose servida de vodca.

A acusação
A vaca parou diante do matadouro. Era jovem, aquela era sua primeira cria. Foi imolado pouco depois de completar um